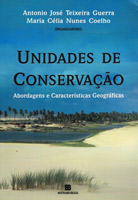
GUERRA, Antonio José Teixeira; COELHO, Maria Célia Nunes. (Orgs.). Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 296p.
A criação de Unidades de Conservação, no Brasil, tem-se constituído em uma das principais formas de intervenção do Estado na proteção de áreas representativas dos biomas naturais do país frente ao acelerado processo de exploração e dilapidação do meio ambiente, imposto pelo sistema capitalista. Paradoxalmente, têm sido o próprio Estado que, por décadas, vem agindo de modo a fomentar a expansão desse mesmo sistema. Portanto, as Unidades de Conservação podem constituir objeto privilegiado de investigação sobre as relações entre Estado, Sociedade e Meio Ambiente nesse país.
O livro Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas (2009), composto por sete capítulos, contando com a participação de dezoito geógrafos oriundos do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado pela Editora Bertrand Brasil, vem complementar uma seqüência de publicações fruto de pesquisas desse mesmo grupo de geógrafos que merecem ser consultadas¹, inclusive, pelos historiadores afeitos à questão ambiental, particularmente, àqueles dedicados às políticas públicas de proteção do patrimônio ambiental, urbano ou não.
De início, pode causar algum estranhamento, em ambos os lados, de um historiador resenhar uma obra produzida por geógrafos. Advertimos, a posição aqui não é a de demarcar fronteiras, mas de aproximar os diálogos entre essas áreas. Acreditamos que o tema das Unidades de Conservação seja comum a esses pesquisadores, justificando assim nossa iniciativa.
As Unidades de Conservação constituem um novo objeto de investigação no campo das Ciências Humanas de modo geral. Desse modo, ainda pouco trabalhado por historiadores. Recentemente, no âmbito dessa disciplina, destacamos a pesquisa de Ana Carolina Moreira Ayres, sobre o Parque Estadual da Cantareira, e nossa dissertação de mestrado, sobre o Parque Estadual de Vassununga². Particularmente, áreas como a Antropologia, a Sociologia e a Geografia têm dedicado maiores esforços na incorporação desse novo tema em suas análises. No campo dessa última disciplina, as relações entre natureza e sociedade têm pautado grande número de trabalhos, ainda que dispersos, sobre essa questão. Particularmente, sobre as Unidades de Conservação, a obra em foco propõe a perspectiva de uma análise integrada da chamada geografia física e humana como ponto de partida para o conjunto das investigações, teóricas e aplicadas a estudos de caso.
Na Apresentação do volume, os organizadores reafirmam as possibilidades reservadas pelo estudo das Unidades de Conservação para um renovado entendimento das relações entre Estado, Sociedade e o Meio Ambiente, a partir das realidades físicas e das construções sociais, culturais e políticas em torno dessas áreas protegidas. Tais Unidades encontram-se, invariavelmente, inseridas em problemáticas tanto locais como globais, devendo estar comprometidas com “os ditames do desenvolvimento sustentável, que pressupõe redes de interdependência, mais densas e eficazes, e equilíbrio dinâmico nas relações entre crescimento econômico, contingente populacional e a preservação normativa dos recursos para além da duração das demandas presentes”. (p. 16)
O prefácio escrito pela geógrafa Bertha Becker segue a mesma linha, e enfatiza que o estudo dessas Unidades deve contribuir para um questionamento sobre o modo como a sociedade e o Estado brasileiro vem por muito tempo tratando a natureza, “seja via mera extração predatória de recursos para atender a mercados globais, seja apenas via preservação generalizada, que pouco ou nada beneficia a população”. (p. 19)
Os autores desse volume advogam pela leitura das Unidades de Conservação como espaços de diferentes territorialidades. Em nossa opinião, a consideração dessas múltiplas territorialidades podem ser melhor operacionalizadas se vistas sob a perspectiva diacrônica, pois as diferentes temporalidades expressas nessas territorialidades podem informar sobre as diferentes racionalidades e identidades culturais das distintas organizações sociais estabelecidas ao longo da história com esses espaços. O que deve contribuir para uma nova interpretação sobre as mudanças ambientais para além da insuficiente visão do ser humano essencialmente destruidor e a idealização da natureza em estado puro dotada de uma organização e racionalidade intrínseca.
De modo geral, sobre as Unidades de Conservação, encontramos referencias dispersas em diversas áreas e uma série de estudos de caso. Como obras que buscam dar um panorama desse tema, destacamos, para o caso paulista, o trabalho de Maria Cecília Wey de Brito, resultado de pesquisa de mestrado no curso de Pós Graduação em Ciência Ambiental na USP, defendido em 1995, e publicado em livro no ano de 2000, pela editora Annablume, já contando com segunda edição³, e também encontramos substanciais referências na obra de Carla Morsello Áreas Protegidas Públicas e Privadas: seleção e manejo (2003) publicado também pela editora Annablume4.
A obra em questão é de significativa importância no rol dessas publicações por transitar entre propostas teórico-metodológicas consistentes e estudos de caso de significativa relevância. Pelo caráter de obra coletiva, as contribuições acabam sendo desiguais. Destacamos os esforços de sistematização das políticas de proteção e gestão da biodiversidade articuladas entre as demandas nacionais (Brasil) e internacionais (em parte as propostas emergidas das reuniões e conferências organizadas pela ONU, por exemplo) apresentado no primeiro Capítulo intitulado “Gestão da Biodiversidade e Áreas Protegidas”, redigido pelos geógrafos Evaristo de Castro Junior, Bruno Henrique Coutinho e Leonardo Esteves de Freitas. Esses autores chamam a atenção para situar o conceito de biodiversidade como uma produção social, enquanto conceito construído historicamente. Na atualidade, a biodiversidade adquire sentido de força mediadora dos sistemas ecológicos e sociais – a natureza adquire valor intrínseco – e resvala no senso comum, como natureza em estado puro, “e se instaura a necessidade de serem negociados acordos entre instituições e diferentes grupos sociais para o estabelecimento de novos compromissos sobre a sua proteção e utilização sustentável” (p. 28)
No Brasil, o Estado sempre foi o condutor da política de implantação de áreas protegidas, mesmo quando marcadas por processos de mobilização popular. Segundo esses autores, até fins da década de 1980, “esse papel era fruto de uma visão de apropriação de recursos naturais e controle territorial” (p. 47). Nas décadas seguintes a visão do Estado brasileiro viria se alterando ao incorporar a “noção estratégica de meio ambiente”, na qual a biodiversidade passa a ser o conceito central na política de conservação. “A biodiversidade passa a ser vista como questão estratégica a médio e longo prazo pelo valor a ela agregado” (p. 47). Como advertência, concluem: “os modelos de desenvolvimento atuantes não tem conseguido equacionar justiça social, proteção e conservação da biodiversidade. O desafio do século XXI é a construção social de modelos que expressem outra racionalidade produtiva que não a da instrumentalização da natureza pelo capital” (p. 62).
O Capítulo seguinte, redigido por Maria Cecília Nunes Coelho, Luis Henrique Cunha e Maurílio de Abreu Monteiro, intitulado “Unidades de Conservação: populações, recursos e territórios – abordagens da geografia e da ecologia política”, apresenta uma rigorosa discussão teórica da qual sobressai elementos analíticos para interpretar as dificuldades de gestão de Unidades de Conservação na Amazônia brasileira. A importância da relação das populações com o meio ambiente é ressaltada, mas de forma a advertir a racionalidade e estratégia das ações de populações locais evidenciando relações conflituosas de que se estabelecem vários indivíduos, ou grupos, sejam econômicos ou não.
A abordagem proposta por esses autores busca referencial teórico na chamada ecologia política, considerada síntese teórica da economia política e da ecologia cultural. “Em linhas gerais, a economia política contextualiza um determinado grupo ou processo social em relação a uma região, nação ou até mesmo ao sistema mundial. Já a ecologia cultural examina as adaptações dos grupos sociais ao ambiente local e aos fatores demográficos” (p. 74) Ora, uma perspectiva que não é, de modo algum, estranha aos historiadores. Particularmente, destacamos a História empreendida em torno do movimento historiográfico conhecido por “escola dos Annales”, ou mais precisamente pelo modelo desenvolvido por Fernand Braudel, conhecido como geohistória.
Ainda para os autores desse Capítulo, tal abordagem permitiria “entender e interpretar a experiência local no contexto dos processos regionais ou globais de mudança ambiental e econômica e ressaltar como processos econômicos e políticos determinam a maneira pela qual os recursos naturais têm sido explorados” (p. 75). Do âmbito da ecologia política, da qual se valem esses autores, emergem duas questões recorrentes: “a ênfase na importância do conceito de poder em termos analíticos e explicativos e a adoção como objeto de investigação dos processos de mudança ambiental em diferentes partes do planeta” (p. 75).
Portanto, a abordagem defendida por esses autores se propõe a auxiliar as análises dos processos físico-ambientais e sociais, das relações espaciais e o contexto social, político e econômico, ajudando, assim, “a interpretar as unidades de conservação como expressões de práticas sociais e de exercícios de poder ou resultados das contradições, conflitos e negociações entre diferentes grupos sociais (com seus interesses, visões de mundo e estratégias de ação)”. (p. 76).
Particularmente, quanto ao capítulo em questão, outro mérito a ser destacado é chamar a atenção para o fato de que as Unidades de Conservação são também projetos territoriais que não podem ser totalmente compreendidos apenas no contexto das políticas públicas voltadas para proteção da natureza. Ou seja, a criação desses espaços podem estar ligados a diversos interesses que não o da estrita conservação ambiental, conforme demonstrou esses autores ao analisarem casos específicos de Unidades criadas na Amazônia brasileira, onde as dinâmicas da territorialização puderam ser interpretadas “tanto em termos de estratégias de permanência/sobrevivência das populações locais quanto das formas de acomodação/adaptação de novas populações que se dirigem para a região, mediadas por interesses econômicos, científicos, conservacionistas, entre outros” (p. 104). Sob essa perspectiva, segundo esses autores, considerar as relações de poder e as dinâmicas territoriais como foco analítico permitiria a adoção de uma visão menos “romântica” tanto das populações tradicionais/locais quanto das políticas públicas destinadas a criação de Unidades de Conservação no Brasil.
Depois de um capítulo instigante, do ponto de vista teórico-metodológico, e das análises empíricas dos estudos de caso, os Capítulos seguintes versarão sobre áreas protegidas próximas ou em meio a espaços urbanos. Uma problemática importantíssima, devido o grau de urbanização atual do Brasil como um todo, mas principalmente nas metrópoles e o crescimento dessas áreas sem efetivo planejamento, o que coloca essa obra em fina sintonia com a publicação Impactos Ambientais Urbanos no Brasil (2001), já citada.
Nesse sentido o Capítulo seguinte, “APA de Petrópolis: um estudo das características geográficas” escrito pelos geógrafos Antonio José T. Guerra e Patrícia Batista M. Lopes, apresenta grande ênfase na descrição do meio físico, contudo, levantam questões importantes de uma área de proteção ambiental que sofre diretamente os impactos da expansão das áreas urbanas, não apenas a da cidade de Petrópolis, mas das demais do entorno da Área de Proteção Ambiental (APA), envolvendo desde especulação imobiliária para construção de luxuosos condomínios aos avanços das favelas em direção àquela área, principalmente, as de encostas, dentre outros agravantes. A questão posta é equacionar o desenvolvimento das áreas urbanas sem afetar as condições ambientais da APA e produzir condições de vida para grande número de famílias que habitam as áreas indevidas e de risco. A gestão do território urbano deveria estar em fina sintonia com programas voltados à conservação e manejo dessa área, mas parece haver um recorrente descompasso entre os interesses assentados no crescimento urbano regidos pelo capitalismo e ações de conservação ambiental e qualidade de vida para populações postas à margem pelo mesmo sistema.
Na mesma linha de estudo de Unidades de Conservação em áreas urbanas, o Capítulo “O Parque Nacional no Maciço da Tijuca: uma Unidade de Conservação na Metrópole do Rio de Janeiro”, as autoras Ana Luiza Coelho Netto, Lia Osório Machado e Rita de Cássia M. Montezuma iniciam apresentando uma perspectiva histórica da ocupação do maciço da Tijuca para justificar em seguida a heterogeneidade das formações vegetais oriundas de sucessões naturais ou induzidas encontrada no momento de criação daquela Unidade, em 1961. Sob essa perspectiva fez-se sensível a ausência do trabalho da historiadora Claudia Heynemann sobre a região que viria a ser a Floresta da Tijuca. Essa pesquisadora colocou em evidência o papel da natureza no processo de constituição de um ideal de civilização almejado pela classe dirigente imperial. Com o reflorestamento da área que comporia a Floresta da Tijuca, a partir de 1861, a elite política refletia sua proposta de ordenamento do Estado Imperial a partir do próprio ordenamento da natureza5. Sobressai da análise dessas autoras, a urgência de não somente se contatar as degradações internas à mencionada Unidade de Conservação, mas estabelecer um plano de gestão integrada desta com os espaços urbanos. (p. 167).
O Capítulo seguinte “Legislação Ambiental e a Gestão de Unidades de Conservação: o caso do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba-RJ”, escrito pelas geógrafas Claudia Blanco de Dios e Mônica dos Santos Marçal, defendem a idéia de que a proteção legal não tem sido suficiente para manter a integridade das Unidades de Conservação. Para tal afirmação, cotejam o arcabouço legal que incide sobre a referida Unidade de Conservação juntamente com a realidade local e os problemas enfrentados para gestão desse espaço. Constatam que a criação de tal Unidade influiu diretamente no ritmo de vida local, particularmente na economia, pela vinculação história daquelas comunidades com a extração de recursos naturais daquela área, e o governo local via nas restingas o atrativo turístico que propiciaria ainda a expansão imobiliária de condomínios de alta classe. Sob esses aspectos, ressaltam as autoras que os conflitos gerados pela criação de unidades de conservação não devem ser tratados como meros entraves técnicos, mas como problemas socioeconômicos decorrentes do histórico de ocupação dessas áreas. (p. 196)
No penúltimo Capítulo do volume, intitulado “Caracterização e análise de situações ambientais relevantes no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e áreas vizinhas”, os pesquisadores Jorge Hamiltons S. dos Santos, Jorge Xavier da Silva e Nádja Furtado B. dos Santos apresentam o Capítulo menos crítico e mais descritivo do volume, com grande ênfase nos aspectos do meio físico da região. A proposta foi subsidiar tomada de decisões quanto à gestão da Unidade em questão, mas o que traz evidente é a completa insuficiência das normas estabelecidas no Plano de Maneje daquela Unidade. As considerações que apresentam pouco trazem de referencias aos contextos sociais locais e as questões políticas.
O Capitulo final “Parque Estadual da Pedra Branca: o desafio da gestão de uma Unidade de Conservação em área urbana”, das autoras Josilda Rodrigues da S. Moura e Vivian Castilho da Costa, retoma as análises de áreas protegias em espaço fluminense. Ressalta da análise que práticas consideradas “tradicionais” para comunidades da região, como o plantio de banana e criação de gado, acabavam sendo utilizados como instrumentos para delimitação de propriedades irregulares invadindo os limites do referido Parque, mascarando o verdadeiro uso que se fazia: ocupação e retirada madeira nativa. Essas ocupações irregulares são favorecidas pelas dificuldades de regularização fundiária do Parque, e por outro lado da falta de política pública de habitação para a cidade do Rio de Janeiro que lança grande contingente populacional para as zonas periféricas.
Fato relevante dos estudos de caso que têm como foco áreas situadas no Estado do Rio de Janeiro, é que tais áreas naturais protegidas enquadram-se na chamada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, categoria internacional criada pela UNESCO, a partir do Programa Man and Biosphere que propõe conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida das populações do entorno, disponibilizando meios de acesso a financiamentos internacionais para ações nessas áreas visando aqueles objetivos. Contudo, uma perspectiva pouco explorado pelos autores, restringido-se apenas a menção ao fato.
A volume apresenta uma sério de imagens (fotografias, mapas e imagens de satélite) presentes nos capítulos três ao sete, todas em preto e branco, aparecendo, contudo, em caráter meramente ilustrativo e deficitárias em resolução e tamanho.
A apresentação das múltiplas possibilidades de estudo sobre as Unidades de Conservação parece evidente ao final da leitura da obra em questão. De maneira ampla, os capítulos demonstram as dificuldades de gestão dessas áreas, particularmente, emergidas de problemas fundiárias, não reconhecimento das sociedades do entorno e conflitos com os interesses locais e/ou regionais.
O mérito do volume, de modo geral, é apresentar uma discussão abrangente, sem por demais superficial, das dificuldades em torno da criação e, principalmente, a implantação e gestão das Unidades de Conservação no Brasil. Panorama atual de grande relevância para o estado da questão das insuficiências das políticas públicas de proteção ao patrimônio ambiental no país. Constatação que deveria ter maior atenção dos historiadores.
As questões abordadas nesse livro apresentam congêneres em outras partes do país, como a região metropolitana de São Paulo e as áreas naturais protegidas localizadas nesse espaço e entorno dele. Da leitura dessa obra de geógrafos, mas não circunscrita para geógrafos, devemos destacar o leque de abordagens possível para o tema das Unidades de Conservação e sua inquestionável relevância para compreensão e possibilidade de intervenção crítica na realidade de questões cruciais da atualidade, como a formulação de políticas públicas que dêem conta da conservação do patrimônio ambiental do país com justiça social.
Notas
______________
¹ Dentro do conjunto de títulos disponíveis, destacamos os seguintes, que apresentam afinidades com a obra em questão: Cf. CUNHA, Sandra Baptista; GUERRA, Antonio José Teixeira. (Orgs.). A questão ambiental: diferentes abordagens. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista. (Orgs.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
² Cf. AYRES, Ana Carolina Moreira. O ciclo da Caapora: a RMSP e o Parque Estadual da Cantareira. São Paulo: Annablume, 2008. Cf. MENARIN, Carlos Alberto. À sombra dos Jequitibás: Patrimônio Ambiental e Políticas Públicas na criação e implantação do Parque Estadual de Vassununga/SP (1969-2005). 270f. 2009. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2009, respectivamente.
³ Cf. BRITO, Maria Cecília Wey de. Unidades de Conservação: intenções e resultados. 2. ed. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2003.
4 Cf. MORSELLO, Carla. Áreas Protegidas Públicas e Privadas: seleção e manejo. São Paulo: Annablume, 2003.
5 Cf. HEYNEMANN, Claudia. Floresta da Tijuca: natureza e civilização no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria municipal de cultura; Departamento geral de documentação e informação cultural; Divisão de editoração, 1995.
Carlos Alberto Menarin.
Resenha publicada na Revista Patrimônio e Memória, do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP) da UNESP-campus de Assis, volume 05, numero 01, outubro de 2009. Disponível em PDF em: https://www.assis.unesp.br/cedap/patrimonio_e_memoria/patrimionio_e_memoria_v5.n1/artigos/resenha_unidades_conservacao.pdf






